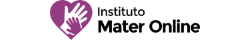Anna Carolina Silva Guedes de Araújo – CRP 15/4579
O ciclo da vida é visto como um padrão fixo e pré-estabelecido: nascer, crescer, casar, reproduzir e morrer (desse jeito mesmo, como se não houvesse outras possibilidades ou inversão na ordem dos fatores). Dentro desse contexto está a maternidade compulsória, ou seja, a obrigatoriedade da mulher de passar pela vivência da maternidade. Por ser algo já estrutural na nossa cultura, é bem comum que as pessoas nem se questionem se realmente querem ter filho(s), e muito menos, o porquê querem ou não.
Assumir o posicionamento da não-maternidade ainda é um grande tabu na nossa sociedade patriarcal e machista. Pois, tem-se a ideia de que “toda mulher nasceu para ser mãe”, e mais ainda, que “toda mulher tem que gostar de ser mãe”. Isso só ocorre por conta da romantização e idealização da maternidade. Segundo Badinter (1998), o amor materno não é inato e sim uma construção ideológica.
A comprovação disso é que nem sempre existiu o conceito de amor inato a natureza feminina, pois, até o final do século XVIII o comum era que as crianças fossem entregues para que as “amas de leite” as cuidassem, e só retornassem para a família aos cinco anos de idade. A importância da relação mãe-bebê e a criação do conceito de “amor materno” foi sendo construída, a partir do século XIX, de acordo com as necessidades socioeconômicas.
Para garantir um padrão de funcionamento da sociedade – que subjuga a mulher, coloca em posições menos valorizadas e poda o direito a escolha própria – a maternidade foi sendo cada vez mais romantizada e o “instinto materno” tido como base para o objetivo de vida da mulher na sociedade, reduzindo-a a capacidade reprodutiva. E isso só serve para gerar sofrimentos, seja para a mulher que não quis a maternidade (é inaceitável ela não desejar ser mãe, terá que se justificar sempre), a mulher que de fato desejou a maternidade (se ela quis, e é a obrigação dela, não pode reclamar de nada), para a mulher que tem dúvidas quanto ao seu desejo (será que ela quer mesmo assumir a função materna ou só passou a vida toda aprendendo que não há outra opção?) ou para a mulher que não pode ser mãe (se é obrigatório ser mãe, e uma mulher só é completa assim, ela se sente diminuída com a infertilidade).
O fato é que, afirmar “eu não quero ser mãe” traz um grande, e paradoxal, julgamento social, dizem que a mulher que nega “o dever da maternidade” é egoísta, fria e má. Porém, se esta mesma mulher engravida, também é julgada como a única “culpada” pela gravidez, e irresponsável. Mulheres estão sempre no limbo, presas na culpabilização estabelecida pelo patriarcado e o machismo.
O desejo de ter filhos não é nem constante, nem universal. Algumas os querem, outras não os querem mais, outras, enfim, nunca o quiseram. Já que existe escolha, existe diversidade de opiniões, e não é mais possível falar de instinto, ou de desejo universal. (BADINTER, 2011, p.17-18).
Com o avanço do movimento feminista e o empoderamento feminino, já podemos trazer o desejo da mulher para o centro do planejamento familiar, afinal, toda mulher tem o direito de decidir se quer ou não ser mãe. Entretanto, ainda precisamos lutar por avanços no que tange as discussões sociais sobre a temática da maternidade, ao acesso a contraceptivos e informações de qualidade a cerca destes, ao direito/legalização ao aborto, a orientação sobre o processo de entrega para a adoção, e, ao apoio psicológico especializado.
REFERÊNCIAS:
BADINTER, Elisabeth. Um amor conquistado: o mito do amor materno. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.BADINTER, Elisabeth. O conflito: a mulher e a mãe. Editora Record, 2011.